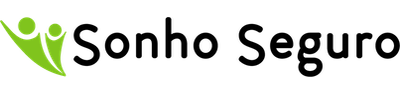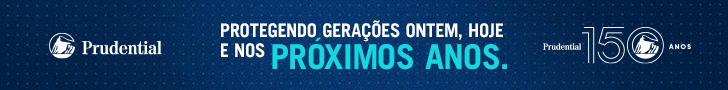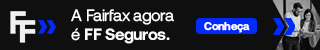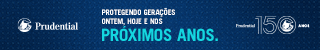Saber que as valiosas peças não estão seguradas traz um segundo choque para a população. Mas é assim mesmo que funciona em todo o mundo. E no Brasil não é diferente.
Os atentados a obras de arte mais famosos ocorridos no Brasil não tinham seguro. Entre eles os quadros de Picasso e Cândido Portinari, roubados do Masp (Museu de Arte de São Paulo) neste mês; “O Jardim de Luxemburgo”, de Henri Matisse, roubado em 2006 do Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro; as gravuras e livro furtados do setor de obras raras da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, com prejuízo avaliado em R$ 400 mil; e a tela “Preparando o Enterro na Rede”, de Cândido Portinari, obra exposta na galeria paulistana Thomas Cohn, avaliada em R$ 2,5 milhões e roubada em novembro de 2005.
A explicação mundial para justificar as fracas vendas desse tipo de seguro é o valor das obras e a falta de sistemas de proteção de museus e galerias, o que aumenta o risco das seguradoras. Para manter a rentabilidade e o interesse de seus acionistas na atividade, as seguradoras cobram preços exorbitantes para garantir a reposição de tudo aquilo que desconhecem, ou seja, que não tem estatísticas que possibilitem fazer cálculo correto de preço.
Mas isso não quer dizer que não existe seguro para obras. Existe sim e custa caro em qualquer hipótese. Muitas vezes, o valor é mais elevado do que o orçamento anual da instituição. Para algumas entidades com histórico de roubo, o preço chega a ser inviável. No mundo, não há estatísticas precisas. Ninguém divulga que faz o seguro para manter a obra longe das quadrilhas especializadas em fraudá-lo. No Brasil, obras de arte movimentam prêmios de US$ 3 milhões por ano. Desse total, 50% vêm de exibições; 30%, de museus; e 20%, de coleções privadas.
As taxas de seguros de museus e galerias são diferenciadas pelos investimentos em segurança. Também se distinguem entre um segurador especializado e um que aceita o risco só porque um bom cliente de outros produtos pediu. As especializadas têm um quadro de funcionários treinado no assunto e que faz exigências e sugestões de implementação de medidas que reduzam o risco de perdas.
Os riscos de um museu, por sua vez, são os mais diversos, desde os mais comuns, básicos, como danos causados por incêndio, raio ou explosão ao imóvel, até os mais complexos. Quase inviável é contratar proteção para o risco de roubo – como o ocorrido com a “Monalisa”, no Louvre, em Paris, em 1911, que por sorte foi localizada dois anos depois e devolvida ao museu – ou perdas geradas por um visitante lunático que resolve danificar a obra, como aconteceu duas vezes com a própria “Monalisa” (uma com acido e outro com uma pedra), bem como as marteladas dadas por um lunático na escultura “Pieta”, de Michelangelo, exposta no Vaticano. Já o seguro de danos ao imóvel é contratado pela maioria.
O que se vê no mercado de seguros é a contratação de apólices com indenização para parte do acervo. O princípio é o mesmo de grandes empresas. A Braskem, por exemplo, maior petroquímica do Brasil, tem um patrimônio em risco avaliado em US$ 20 bilhões e a cobertura do seguro está limitada a US$ 2 bilhões.
Estatísticas mundiais mostram que o custo de fazer um seguro de obra de arte varia entre 0,5% e 2% do seu valor. Para exposições, o valor da apólice de transporte, com cobertura conhecida como “prego a prego”, o custo do seguro chega a representar até 10% do valor da exposição. Nesses casos, quem paga o seguro é o patrocinador, geralmente um banco dono de seguradora ou mesmo a própria seguradora.
E as exigências são muitas. Se os proprietários não cumprirem a imensa lista, podem perder o direito de receber o seguro. No caso recente do Masp, se o museu tivesse segurado as obras, poderia perder o direito à indenização em razão de ter desligado o sistema de alarme por defeitos apresentados, segundo a imprensa.
No Brasil, o custo é balizado pelo teto. Além de todos os problemas enfrentados pelos países de primeiro mundo, a situação é mais crítica. Primeiro: as seguradoras não têm experiência no assunto e, por isso, cobram um preço alto para garantir perdas. Poucas têm especialização, como Chubb, ACE e Unibanco-AIG, em produtos específicos para colecionadores. Segundo: elas não têm profissionais especializados na área. Isso exige que os custos de avaliação da obra, feita por marchands para constar na apólice, corra por conta do colecionar. Ou seja, o preço do seguro se torna mais alto ainda.
Terceiro: o resseguro. Por ser um risco de valor elevado, várias companhias dividem o contrato, para que, no caso de uma perda financeira monstruosa, nenhuma companhia entre em processo de falência. Assim, o valor do seguro é determinado pelo resseguro, que até 2007 era um monopólio do IRB Brasil Re, o que inibiu a concorrência e, conseqüentemente, aumentava os preços.
Alguns especialistas acreditam que a abertura do resseguro em 2008 trará mais concorrentes para o setor. Por enquanto, a saída dos colecionadores tem sido a mesma de proprietários de carros com mais de cinco anos de uso ou de motoristas de caminhão. Investir em sistemas de segurança e de monitoramento para amenizar o risco, uma vez que o custo do seguro é impraticável.
*Matéria da autora publicada na Gazeta Mercantil em 28/12/2007